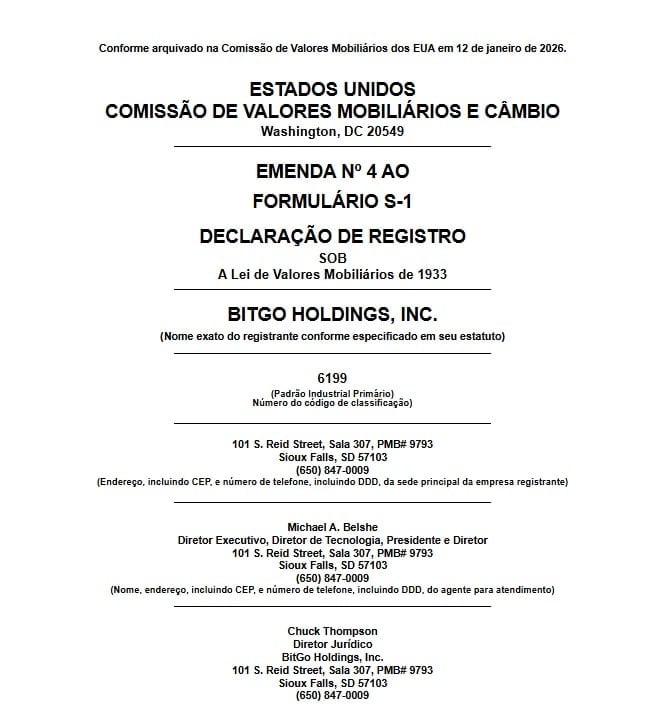Uma onda de protestos no Irã iniciada no final do ano passado por conta da desvalorização de 50% do rial, a moeda iraniana, além de uma inflação anual de 40%, se transformou numa revolta popular que, pela primeira vez com chances reais, ameaça derrubar quase meio século de regime teocrático comandado pelos aiatolás xiitas.
As ameaças reiteradas pelo presidente americano Donald Trump no fim de semana de intervir no Irã, se o governo não contiver a repressão brutal contra os protestos que tomam conta de todas as províncias do país, colocou mais pressão sobre o regime do aiatolá Ali Khamenei, líder máximo do país, que segundo Trump está “começando a cruzar uma linha vermelha”.
“Estamos analisando a situação com muito cuidado, considerando algumas opções muito fortes”, disse Trump no domingo, 11 de janeiro, a bordo do Air Force One, a caminho de Washington, vindo da Flórida.
Entre as opções, além de um ataque militar, o presidente americano citou a preocupação de restaurar a internet, cortada pelo regime desde quinta-feira passada, para conter a convocação de protestos. Trump disse que ligaria para Elon Musk, dono da rede de banda larga via satélite Starlink, para discutir o problema.
O recado foi anotado pelo regime. Na segunda-feira, 12 de janeiro, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que seu país está “pronto para negociar” com os EUA.
“Não estamos buscando a guerra, mas estamos preparados para ela — ainda mais preparados do que na guerra anterior”, disse Araghchi, referindo-se aos ataques de Israel e dos EUA em junho, que dizimaram o comando da Guarda Revolucionária do Irã, um dos pilares de sustentação do regime, e boa parte do programa nuclear iraniano. “Também estamos prontos para negociações, mas negociações justas, com igualdade de direitos e respeito mútuo.”
Há elementos que reforçam a possibilidade de eventual queda do regime, algo tentado em outras quatro oportunidades – em 2009, 2017, 2019 e 2022, por diferentes motivos. A crise econômica do Irã, estopim dos protestos, parece ter chegado efetivamente ao fundo do poço.
Nem o petróleo salva
A retirada dos EUA do acordo nuclear com o Irã em 2018 e seu amplo regime de sanções sufocaram a economia da república islâmica. A insatisfação com o isolamento internacional, a repressão política e a incompetência do regime teocrático em administrar a economia de um país dono da quarta maior produção de petróleo da Opep - cerca de 3,22 milhões de barris de petróleo cru por dia – e das terceiras maiores reservas do mundo (atrás apenas da Venezuela e Arábia Saudita) agravaram os problemas do país.
Para o acadêmico americano Michael Scott Doran, pesquisador sênior do Hudson Institute, dos EUA, e especializado em Oriente Médio, o regime perdeu o atributo mais básico de um Estado funcional: o controle sobre sua moeda.
“Quando a diferença entre as taxas de câmbio oficiais e de mercado chega a 35 para 1, o rial deixa de funcionar adequadamente como moeda”, diz Doran. “As poupanças perdem o sentido, os contratos perdem credibilidade e o planejamento econômico entra em colapso.”
Segundo ele, o regime agora preside duas economias separadas. Uma opera com riais em desvalorização e sustenta a burocracia formal. A outra realiza transações por meio de escambo de petróleo e moeda forte, acessíveis apenas a um círculo restrito de pessoas ligadas ao regime.
Quando o Ministério da Defesa iraniano precisou vender petróleo bruto diretamente a clientes estrangeiros para financiar operações — porque o orçamento central não consegue mais transferir fundos pelos canais normais — , o Estado perdeu sua capacidade de alocar recursos.
Na prática, o Banco Central já não controla as reservas cambiais do Irã. As sanções obrigaram o regime a depender de um sistema bancário paralelo, no qual as divisas estrangeiras são mantidas fora do Irã, depositadas em empresas de fachada e intermediárias, fora do alcance das instituições estatais regulares.
O dinheiro existe, mas não está disponível para a estabilização macroeconômica. Para os iranianos comuns, esse colapso se manifesta na escassez diária de tudo. O abastecimento de água é intermitente, mesmo nas grandes cidades. A eletricidade e o combustível são racionados. Os preços dos alimentos superam os salários, obrigando as famílias a reduzir o consumo e esgotar suas economias.
A economia socializada do Irã agrava o problema. O combustível é vendido internamente a preços fortemente subsidiados. Intermediários ligados ao regime compram-no barato, exportam-no ilegalmente e embolsam a diferença. A população absorve a escassez; os membros do regime ficam com o restante. O que aparenta ser proteção social funciona, na realidade, como uma máquina de corrupção.
Foi com esse cenário como pano de fundo que os protestos tiveram início na semana do Réveillon, quando lojistas do distrito comercial de Teerã fecharam suas lojas, seguidos por outros no histórico Grande Bazar, com a desvalorização fulminante do rial após a guerra com Israel e EUA – a moeda perdeu metade do valor em seis meses – e a explosão inflacionária.
Numa iniciativa para conter a insatisfação popular, o regime trocou o comando do Banco Central, nomeando Abdolnaser Hemmati – que havia sido demitido do cargo de ministro da Economia em março, justamente por causa do aumento da inflação.
Em outra frente, o presidente Masoud Pezeshkian – um moderado cujas iniciativas são seguidas vezes revogadas pelo clero xiita - reuniu-se em 30 de dezembro com representantes de associações comerciais, sindicatos e do conselho de administração do Grande Bazar, ocasião em que pediu-lhes que "colaborassem para reduzir a ansiedade pública".
A adesão dos comerciantes do Grande Bazar aos protestos, porém, só aumentou depois disso – o que tem uma simbologia inédita. Considerado uma instituição poderosa, com uma longa tradição de ativismo político e centro das classes mais ricas e religiosamente conservadoras do país, foi o Grande Bazar que, em 1978, financiou o aiatolá Ruholaah Khomeini e ajudou a impulsionar a Revolução Islâmica que derrubou o último monarca do Irã, o xá Mohammad Reza Pahlavi.
“O fato de os protestos atuais terem se originado no Grande Bazar sinaliza que até mesmo os apoiadores mais confiáveis e historicamente leais do regime se voltaram contra ele”, afirma a poetisa, jornalista e escritora iraniana Roya Hakakian, que emigrou para os EUA em 1985.
Hakakian observa a diferença da onda atual de protestos em relação aos anteriores. Os de 2009 foram uma reação a uma fraude na eleição presidencial para beneficiar o candidato do regime. Em 2017, foram principalmente comandados pelas camadas pobres, revoltadas com a eliminação dos subsídios aos combustíveis. Em 2019, foram convocados pelos moradores das províncias do sul do Irã, que sofriam com a escassez de água. Em 2022 – e nas anteriores - foram impulsionados principalmente por jovens e estudantes universitários.
“As manifestações de 2026 abrangem gerações, essas distinções desapareceram”, afirma Hakakian. A classe média, cuja situação financeira vem piorando constantemente, marcha ao lado dos pobres; os jovens marcham lado a lado com os idosos; curdos e azeris protestam juntos. “Essa ampla coalizão social explica por que as multidões atuais são maiores do que quaisquer outras desde 2009.”
A diversidade étnica do Irã, por sinal, agrava o problema de traduzir protestos em massa em ações políticas unificadas. Os persas constituem apenas cerca de metade da população, juntamente com grandes minorias azeris (com origem no Azerbaijão), baijanas, curdas, árabes, balúchis e turcomanas, concentradas em regiões distintas. Esses grupos têm diferentes queixas e reagem a diferentes pressões.
Uma saída existe — pelo menos em teoria. O governo Trump apresentou uma proposta clara: desmantelar tanto o programa nuclear quanto o programa de mísseis balísticos e acabar com o financiamento de grupos armados regionais. Em troca, o Irã recuperaria o acesso a moeda estrangeira, estabilizaria sua economia e desmantelaria o sistema paralelo induzido pelas sanções, que atualmente sustenta a corrupção e a escassez.
Khamenei, porém, rejeitou a proposta de imediato – mas há possibilidade de o aceno feito aos EUA nesta segunda, 12, pelo ministro das Relações Exteriores possa representar um recuo de Khamenei.
Enquanto isso analistas internacionais debatem três cenários possíveis para o Irã, todos incertos. O primeiro cenário é o colapso do regime. A agitação prolongada fragmenta a elite, levando a deserções dentro dos serviços de segurança e à quebra do controle centralizado.
A segunda possibilidade é uma transformação parcial. Khamenei, agora com 86 anos e visivelmente frágil, pode morrer — ou ser deposto — abrindo caminho para que um homem forte da Guarda Revolucionária assuma o poder. Tal figura ajustaria a política interna e externa para ganhar tempo. O Estado poderia sobreviver, mas o regime como o conhecemos hoje não: a autoridade ideológica se desgastaria e a coesão institucional enfraqueceria.
O terceiro cenário é o da improvisação. A liderança reprime os protestos até que eles se dissipem. O sistema sobrevive sem mudanças formais. Mas emerge ainda mais fraco do que antes: mais paralisado, mais isolado e mais dependente da força para funcionar.
"Saída venezuelana"
Cada uma dessas possibilidades embute riscos. Por isso começa a ganhar força uma “opção venezuelana” para a crise do Irã. A saída de Khamenei, por exemplo, poderia abrir uma oportunidade para que o restante do regime adotasse uma abordagem mais pragmática — como aconteceu em Caracas.
“A grande questão é se isso seria suficiente para apaziguar a população iraniana, dado o nível de insatisfação, tumultos e violência que estamos vendo neste momento”, afirma Ellie Geranmayeh, vice-diretora do programa para o Oriente Médio do Conselho Europeu de Relações Exteriores. “Mas essa é uma saída para o atual sistema governante e também pode ser atraente para Trump e para os países do Golfo.”
Um dado preocupante é justamente a ausência de uma oposição unificada, que pudesse conduzir uma transição pacífica do regime, algo difícil de imaginar num regime teocrático que dispõe de milícias e uma Guarda Revolucionária que ainda acredita na missão religiosa da Revolução Islâmica.
O nome que emergiu desde o início dos atuais protestos - Reza Pahlevi, filho do antigo xá do Irã – está longe de ser uma unanimidade. Apesar de o ódio ao xá ter impulsionado a Revolução Islâmica, o herdeiro Pahlevi passou a simbolizar nas últimas semanas uma era perdida e, em retrospectiva, querida — em que a trajetória nacional do Irã inspirava orgulho em vez de desespero.
Da mesma forma, uma revolução no Irã agora não apenas mudaria completamente a geopolítica do Oriente Médio — um processo que já começou —, mas também daria um impulso para que a população de países fechados, como de Cuba, Turquia e Rússia também se rebelem.
Além, é claro, de oferecer mais um trunfo para Donald Trump e sua nova ordem mundial.